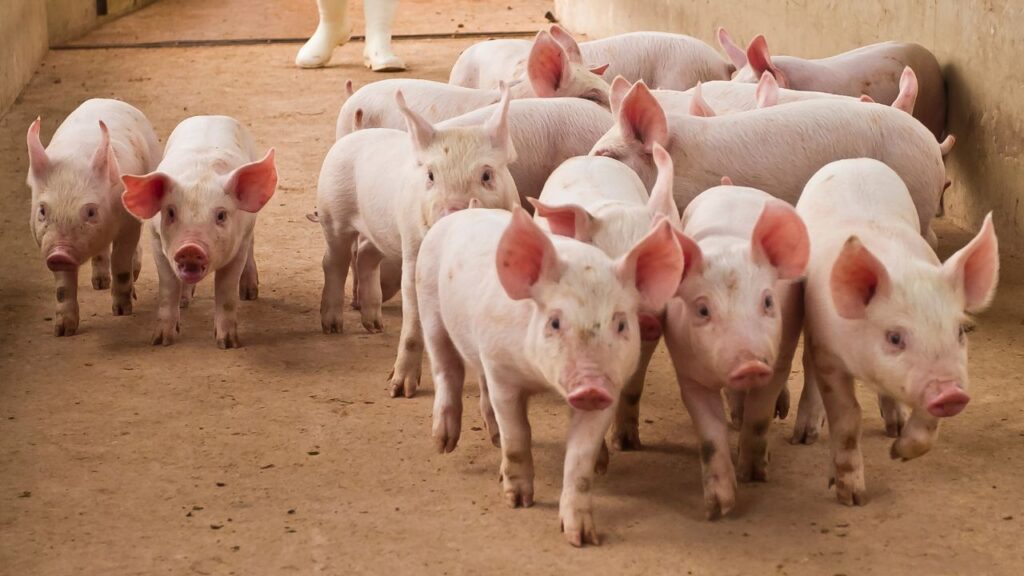O déficit no armazenamento compromete decisivamente a independência do empreendedor rural.
Gargalos no horizonte do produtor

Morador de Diamante do Norte (PR), o produtor e engenheiro agrônomo Luiz Noboru Ishikawa tem feito um grande esforço para diversificar e ampliar a colheita. Depois de dez anos cultivando café, ele decidiu apostar em culturas menos vulneráveis à queda dos preços e às oscilações climáticas. Hoje em dia, investe na mandioca e na soja, arrendando terrenos para ampliar sua capacidade de produção – uma mudança que requer insistência até se tornar, de fato, lucrativa. Mas diversificar não basta.
Para o negócio de Ishikawa, uma boa capacidade de armazenamento faz toda a diferença. Associado da Cooperativa Agroindustrial do Noroeste Paranaense (Copagra), ele comemora as vantagens de poder estocar parte da produção e ter liberdade para escolher o melhor momento de vendê-la. “Quando entrego mandioca para a cooperativa, negocio para fechar metade pelo preço do dia.
A outra metade a gente deixa estocada”, explica ele. Com isso, pode usar a venda imediata para cobrir os custos iniciais e aguardar um bom preço para vender o restante – o que aumenta os ganhos e garante boas perspectivas futuras para seu negócio. “Estou começando a acertar”, diz ele, satisfeito.
Leia também no Agrimídia:
- •Filipinas ampliam compras e impulsionam exportações brasileiras de carne suína em fevereiro
- •Exportações brasileiras de carne de frango crescem 5,3% em fevereiro e atingem recorde para o mês
- •Rio Grande do Sul reforça biosseguridade na avicultura comercial após alerta sanitário
- •Custos de ração baixos e carne bovina cara podem favorecer suinocultura em 2026
A experiência do produtor paranaense mostra que a armazenagem, muito mais do que uma das carências da precária infraestrutura brasileira, tem peso importante para a sustentabilidade econômica do agronegócio. Com uma produção prevista de 190 milhões de toneladas em 2014, a agricultura brasileira é capaz de armazenar apenas 145 milhões de toneladas – um déficit de 45 milhões, que se mantém há mais de uma década. “O recomendável, pelos padrões internacionais, é uma capacidade de armazenamento equivalente a 120% da produção. Nós seguimos com pouco mais de 75%”, lamenta Silmar Müller, comentarista de agribusiness e presidente da Agrinvestor Consultoria.
O vice-presidente de negócios da Cocamar, José Cícero Aderaldo, explica que o déficit no armazenamento compromete decisivamente a independência do empreendedor rural. “Um produtor que colheu soja em março deste ano, por exemplo: se ele tivesse onde armazenar, não precisaria vender o total da produção até fevereiro do ano que vem. É uma margem de segurança que ele acaba deixando de ter, porque precisa vender tudo rapidamente”, aponta.
Os efeitos desse déficit aparecem em todos os elos da já complicada logística agrícola brasileira. Sem a possibilidade de armazenar sua produção e aguardar um preço mais vantajoso, o produtor precisa vender a safra com rapidez. Além de diminuir os lucros, isso intensifica o tráfego nas já precárias estradas brasileiras – uma situação que se agrava com a falta de investimento em outros modais, como trens e hidrovias. Os portos, já sobrecarregados, sofrem com a demanda que não para de crescer. E tudo isso, é claro, prejudica a competitividade do produto brasileiro no exterior. Nos Estados Unidos, a logística da produção agrícola consome cerca de 8% do Produto Interno Bruto (PIB). No Brasil, ultrapassa os 16%.
Superintendente da Kepler Weber, uma das maiores empresas no setor de armazenamento do país, João Tadeu Vino explica que o rápido crescimento da produção aumenta a sensação de que há gargalos nos sistemas de armazenagem. “Uma colheita que antes levava 30 dias ou mais agora está sendo feita em 20 dias. O investimento em colheitadeiras pelos produtores gera pressão sobre as cooperativas, que precisam absorver a produção crescente”, constata.
Onerosas estradas
Fazer a produção circular pelas estradas brasileiras é um desafio crônico dos produtores do sul do país. O modelo rodoviário está no limite e as estradas não dão conta da demanda. O resultado é um aumento nos custos de frete. No Paraná, por exemplo, o valor do frete é de R$ 103 por tonelada, R$ 10 a mais do que no ano anterior. Segundo o World Economic Forum, o transporte da produção tem um custo médio de US$ 80 por tonelada a cada mil quilômetros rodados no Brasil. É mais que o dobro da média mundial, de US$ 30 por tonelada a cada mil quilômetros. A entidade identifica a infraestrutura logística como o maior entrave para se fazer negócios no Brasil – acima até da carga tributária. Todas essas questões, é claro, resultam em demanda extra nos principais portos do país. “Alguns navios chegam a ficar 90 dias parados no porto. Quem paga esses atrasos?”, questiona José Cícero, da Cocamar. Um exemplo é o Porto de Paranaguá. Atualmente, o terminal faz o escoamento de soja e milho que vem do centro-oeste e até do Paraguai. Só que as exportações do Paraná não param de crescer. O resultado é que Paranaguá não consegue dar conta – e os produtores do próprio Estado são obrigados a buscar outros caminhos. “Alguns levam o produto até Rio Grande”, diz ele.
Para combater esses problemas, todos apontam uma só receita: a intermodalidade. Uma solução para gaúchos e catarinenses seria a execução do trecho sul da Ferrovia Norte-Sul, concebido para aproximar a produção desses Estados do restante do país. O projeto, porém, arrasta-se há décadas e ainda não tem prazo certo para ser inaugurado.
Os problemas são conhecidos pelo produtor agrícola. Mas Silmar Müller explica que o agronegócio do sul é, de certa forma, privilegiado em termos de infraestrutura – pelo menos se comparado com o do centro-oeste, por exemplo. “O produtor de soja do Rio Grande do Sul é o que recebe, quase sempre, os melhores preços no país, pois o Estado tem um excelente porto [o de Rio Grande]. Além disso, pode contar com a proximidade dos portos catarinenses ao norte”, aponta.
Mas a região também sofre com a logística perversa, diz Silmar. Especialmente no desencontro entre a produção e o consumo. Um exemplo é o milho: a produção cresce para o norte do país, enquanto os grandes polos de produção de carnes, que demandam milho para funcionar, continuam no sul. “Trazer milho de Sorriso (MT) para alimentar os plantéis de aves e suínos de Chapecó (SC) é uma coisa insana. Como a única opção é a rodovia, o frete sai mais caro que o preço do cereal”, diz Müller.